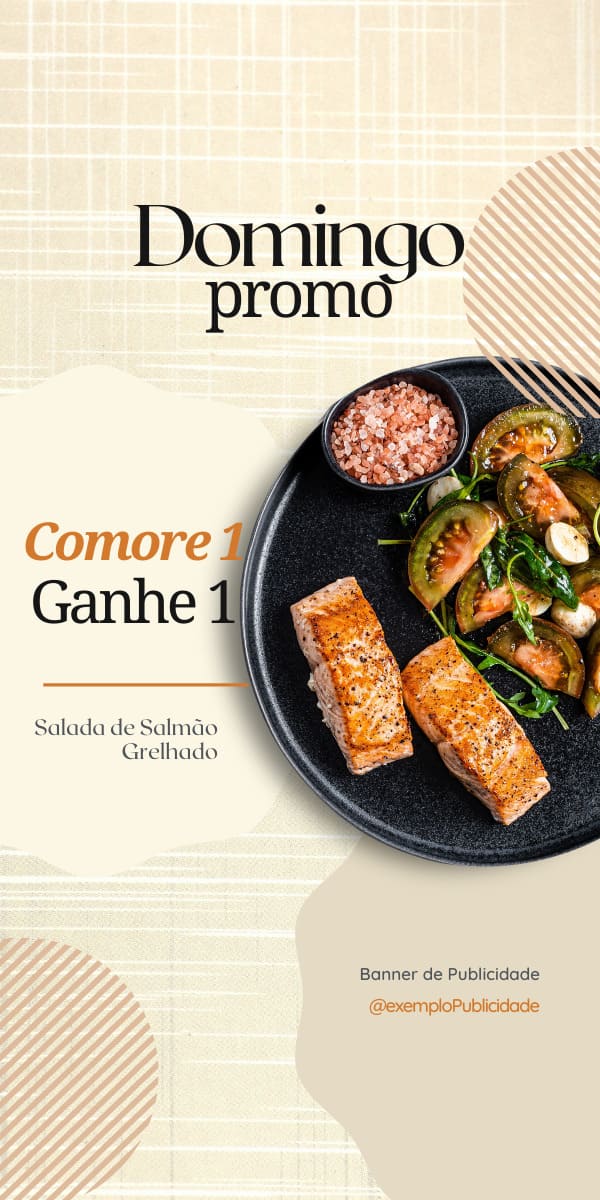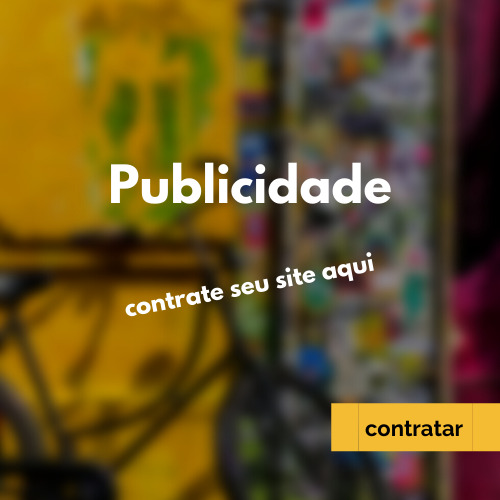A piauí publica a seguir um dos capítulos do livro Como dançar com mortos, de Kaíke Nanne, que a Maquinaria Editorial lança neste mês. A obra é resultado das viagens que o autor realizou pelo mundo nos últimos trinta anos, por cinco continentes, para conhecer comunidades tradicionais e pesquisar sobre os povos originários.
Cento e três anos de uma vida ativa, saudável e com as funções cognitivas em ordem, convenhamos, é uma conquista extraordinária. Manja Pakku cuidou do jardim, executou tarefas domésticas e foi uma matriarca sábia e indulgente para seus sete filhos e dezenove netos até os últimos dias. Quer dizer… últimos dias, em termos. Porque, segundo a tradição do povo Toraja, Manja Pakku não está propriamente morta. Seu corpo ainda contém o espírito. Por essa razão, há um ano e oito meses ela vem sendo tratada como se estivesse doente, impossibilitada de se movimentar, mas ainda com um fio de vida. Coberto por um fino lençol branco rendado, o cadáver repousa num caixão destampado, a cabeça apoiada sobre um travesseiro cor-de-rosa bordado com temas florais verdes. Não há sinal de mau cheiro. O corpo está desidratado, tem um tom terroso, a pele parece grudada ao esqueleto. As três refeições diárias são colocadas numa mesinha ao lado do caixão e, algumas horas depois, intocadas, voltam para a cozinha e podem ser consumidas pela família. Os cuidados estão a cargo de Hermon Pakku, de 60 anos, a filha número cinco da matriarca. É num dos quartos da casa de Hermon, ao lado de uma ampla janela que dá para o jardim, que o caixão é mantido. Uma vez por dia, Hermon penteia os cabelos brancos da mãe morta com uma escova apropriada para fios delicados. Também conversa com ela. Diz que ouve conselhos e histórias do passado, algumas até muito divertidas.
Exceto pelas injeções de formol aplicadas no cadáver, procedimento adotado a partir das primeiras décadas do século XX, os torajas seguem fiéis às práticas dos antepassados. Primeiro, o corpo é banhado pelos parentes mais próximos, massageado com óleo de coco, adornado com joias e vestido com roupas novas, com frequência escolhidas previamente pelo próprio falecido. Depois, por dois dias, é exposto sentado. Um pedaço de bambu é colocado na boca para que os primeiros fluidos da decomposição orgânica sejam drenados. Concluído o período de exposição pública, durante o qual amigos e vizinhos prestam homenagens, o morto é despido, posicionado na horizontal, envolvido em panos brancos e amarrado com firmeza com tiras de tecido. Acomodado sobre uma esteira na qual há camadas de folhas de mandioca para reter os líquidos que os panos não conseguem absorver, o cadáver exala um odor nauseante que invade os cômodos da casa – no entanto, habituados ao processo, os familiares não se sentem incomodados. A fase de desidratação do cadáver depende da umidade e das demais condições climáticas, mas normalmente dura vários meses. Uma vez seco, o corpo é levado ao caixão.
Hermon e seus irmãos cresceram brincando ao redor de caixões abertos de tios e avós – e também os reverenciando. Assim tem sido há pelo menos duzentos anos, período em que a família Pakku está estabelecida em Rantepao, capital do distrito de Toraja do Norte, na ilha de Sulawesi, no leste da Indonésia. Em agosto de 2024, quando visitei Hermon, ela havia programado a cerimônia funerária da sua mãe para dezembro do mesmo ano. Ou seja, o corpo de Manja Pakku seria mantido insepulto por dois anos. O ritual chamado Rambu Solo pode acontecer num período mais curto ou muito mais longo – não há um prazo máximo a cumprir; o fundamental é que haja tempo para a família reunir os recursos necessários para realizar uma celebração grandiosa, com sacrifício do maior número possível de búfalos, e que todos os parentes que moram fora consigam se organizar para estar presentes.
Para os torajas, o Rambu Solo é a ocasião mais importante da vida de uma pessoa – custa um dinheirão, muito mais que festas de casamento, formatura e aniversários. O rito pode durar até uma semana. Há músicas, cortejos, oferendas às entidades, preces aos ancestrais e farta distribuição de comida às centenas de convidados durante os dias de solenidades. Tudo transcorre com muita alegria, com uma série de exaltações ao ente querido que será sepultado. No momento que o féretro adornado com esmero é levado a uma plataforma elevada, enfim o homenageado é considerado morto. Mas ainda não é hora de chorar. Os prantos ocorrem somente quando o esquife é depositado numa caverna, a opção dos menos abastados, ou num túmulo escavado num paredão rochoso, um luxo que encarece ainda mais o orçamento do Rambu Solo. A alma do morto, porém, não parte ainda para a Puya, a terra dos espíritos. A migração só acontece depois de uma outra cerimônia, a Ma’nene, realizada dois anos depois. Na Ma’nene, cuja tradução literal é “cuidado com os ancestrais”, o corpo é novamente limpo e manipulado; dependendo das condições, o cadáver pode receber novas aplicações de óleos essenciais ou até jatos de pesticida, caso haja ataques de insetos. Vestido com novas roupas, o morto volta ao caixão, no qual são colocados objetos de uso pessoal, como joias, carteira de identidade, óculos, celular e maços de cigarro. Agora, sim, o espírito parte em paz para a Puya. As diversas etapas minuciosas desses dois rituais são dispensáveis apenas no caso de morte de crianças. Entende-se que almas puras viajam direto para a Puya e, portanto, o sepultamento pode ser realizado depois do óbito.
A Puya não é um lugar benfazejo para onde vão os justos depois de um julgamento, mas a morada eterna de todos os desencarnados. É um mundo que basicamente reproduz a vida na Terra, exceto por dois detalhes: lá não há fogo nem animais selvagens. Mas existem pomares e rebanhos, casas e escolas, parques e lojas. De modo que os búfalos sacrificados servirão ao sustento da alma do falecido, que poderá negociá-los no mercado público da outra dimensão. Nada disso está escrito. Como é comum em religiões animistas que não possuem um documento fundador ou um livro sagrado, a Aluk Todolo vem tendo seus ensinamentos transmitidos de forma oral, de geração em geração, por pelo menos oito séculos, segundo as contas da historiografia toraja. O termo aluk todolo significa “o caminho dos ancestrais” ou “à maneira dos antigos”. E é exatamente a reverência aos antepassados que delineia os traços essenciais dessa cultura não raro incompreendida pelos ocidentais.
No ano de 1253, o neto de Genghis Khan, Kublai Khan, liderou uma campanha militar com o objetivo de expandir ainda mais o Império Mongol para além das estepes da Ásia Central. Cavaleiros de notável habilidade e arqueiros infalíveis, os mongóis eram ferozes com as populações que não se rendiam quando cercadas e já haviam estendido extraordinariamente seus domínios fora de suas terras silenciosas e muitas vezes desoladas. Os Khan tinham sob seu jugo a dinastia Jin, do norte da China, o Tibete, extensas áreas da Sibéria, e o Império Khwarazm, cujo território hoje corresponde a boa parte do Irã e de quase todos os “istãos”: Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão e Afeganistão.
Mas Kublai Khan queria mais. Ele almejava o controle de regiões mais ricas e densamente povoadas. Por isso rumou com seus guerreiros para Yunnan, no sul da China, possessão do Reino de Dali – um reino com certo grau de autonomia, forte cultura budista e profícuas relações comerciais com o Tibete e o Sudeste Asiático. Após a conquista mongol, Yunnan foi integrada ao império como uma província, o rei Dali tornou-se uma figura decorativa, a administração passou por reformas importantes e o islamismo ganhou espaço, com a construção de escolas religiosas e mesquitas. Ocorreu uma rápida mudança demográfica, com a chegada de colonos Han e de outros grupos étnicos, e com o êxodo de clãs descontentes. Assim, uma parte dos habitantes insatisfeitos organizou-se para partir em embarcações à procura de outras paragens.
A expedição marítima deixou o Golfo de Tonkin e seguiu margeando a costa do que hoje é o Vietnã, para depois enfrentar águas abertas ao cruzar na direção sudeste um trecho do Mar da China Meridional. Depois, nas proximidades do Arquipélago de Sulu, nas atuais Filipinas, os barcos rumaram para o sul. A frota terminou aportando numa ilha selvagem em forma de K, que bem mais tarde, no século XVI, seria batizada por navegadores portugueses de Celebes e só no século XX assumiria o nome indonésio de Sulawesi. A viagem dos aventureiros de Yunnan não transcorreu numa planície de ondas simpáticas. O mar encrespado e temperamental castigou severamente os barcos, que, danificados, acabaram sendo utilizados como telhados das casas suspensas por pilares construídas no litoral. Como sinal de que a origem do grupo deveria ser sempre lembrada, decidiu-se que a proa dos barcos-telhados apontaria sempre para o norte, na direção de Yunnan.
Com o tempo, assentamentos de outras comunidades foram se estabelecendo nas proximidades, surgiram conflitos na disputa por recursos e os yuanneses preferiram migrar para as montanhas. Fixaram-se numa região acidentada, coberta por florestas tropicais com samambaias gigantes, e cortada por rios espumosos que descem turbulentos dos montes, ao encontro de vales introspectivos e escarpas traiçoeiras. Perto da linha do Equador, a área tem bem demarcada a estação chuvosa, e a altitude, entre 300 e 2,8 mil metros acima do nível do mar, ameniza o calor; à noite, nas zonas mais elevadas, a temperatura pode cair facilmente aos 15ºC. Os migrantes de Yunnan desenvolveram vastas plantações de arroz e passaram a criar rebanhos de búfalos e porcos. Adaptaram-se sem muitas dificuldades às terras altas e começaram a ser chamados pelos bugineses, grupo étnico costeiro de Sulawesi, de povo Toraja, que significa “povo de cima” ou “povo das montanhas”.
Ao construir suas casas no novo habitat, os torajas mantiveram o formato do teto – desta feita, contudo, não mais barcos caindo aos pedaços, mas embarcações estilizadas, coloridas e ornamentadas com sofisticação. Até hoje, essas casas tradicionais de madeira, as chamadas tongkonan, são vistas em profusão em Tana Toraja, como as terras do grupo étnico em Sulawesi são designadas. Apenas uma pequena parte das tongkonans, no entanto, continua servindo como moradia. Elas normalmente são utilizadas como paiol, depósito ou mesmo curral. Porém, nos dois dias em que um ente querido morto precisa ser exibido à comunidade, espera-se que essa exposição aconteça numa tongkonan. Então, a família limpa o local para a ocasião. No Rambu Solo, a cerimônia funerária, as casas típicas dispostas em fileiras simétricas nos espaços dedicados ao ritual cumprem a indispensável função de evocar os antepassados e também a tongkonan do plano transcendente, onde está o Deus criador.
De acordo com a doutrina original da Aluk Todolo, Puang Matua é o Deus do sol deslumbrante que criou o homem, as espécies ancestrais das plantas e dos animais, bem como todas as matérias inertes, como rochas, areia e metais. Tudo foi gerado no plano superior, e Puang Matua fez sua obra descer ao mundo médio, este em que vivemos. Os primeiros seres humanos, precisamente os ancestrais do povo Toraja, eram imortais e desceram à Terra por uma escada – e é para lembrar dessa origem que a popa e a proa do teto das tongkonans avançam de modo desafiador para o alto. Puang Matua estabeleceu códigos sociais, regras de convivência e diretrizes para os rituais. O relacionamento do Deus com a raça humana era harmonioso, até que um dos homens praticou incesto com duas filhas. A violação da ordem natural impôs a mortalidade à espécie e entristeceu Puang Matua. Ele recolheu-se, tornou-se uma entidade silenciosa, que não mais mantém contato com os humanos. Ainda assim, é reverenciado como o criador primordial e ocupa o topo da hierarquia do panteão toraja.
A Aluk Todolo é uma religião henoteísta – no henoteísmo há vários deuses, mas um deles ocupa posição de supremacia e é considerado o mais elevado, com autoridade sobre os demais. Se o grego Zeus tem cinco irmãos, Puang Matua tem sete. Entre eles, Pong Tulakpadang desempenha uma função de peso. É o senhor do mundo inferior e segura a Terra nas palmas das mãos. Mais importante para os mortais, todavia, é Pong Lalondong, que recepciona as almas na Puya. Por isso, é ele o destinatário de boa parte dos sacrifícios realizados durante o Rambu Solo.
Meu guia acaba de receber uma informação animadora. Mastudi Laedda, um muçulmano bunisese de entusiasmo inesgotável – apesar disso, é capaz de adormecer profundamente tão logo nosso motorista assume o volante, a cabeça chacoalhando para os lados como um pêndulo zonzo –, ficou sabendo por intermédio de seus bons amigos torajas que um Rambu Solo grandioso está em curso. Recebidas as coordenadas, rumamos para a zona rural de Rantepao. Nas imediações do complexo ritualístico não há mais lugar para estacionar. Paramos longe e seguimos a pé por uma estradinha de terra, ao lado de muitos dos moradores pobres do vilarejo próximo – nos funerais de pessoas de classes mais privilegiadas, como é o caso, a população carente da vizinhança costuma ser convidada e pode comer à vontade. Está para começar as solenidades em honra a Miska Timu Limbong, uma senhora que morreu cedo, aos 53 anos, e teve o corpo mantido em casa pela família por três anos. Na foto emoldurada em destaque num gazebo, em meio a ramalhetes de rosas vermelhas, Miska aparece num elegante vestido bege de mangas curtas, colar de pérolas, bracelete dourado no punho direito. O olhar é manso. Os cabelos pretos, curtos. O sorriso, de lábios fechados, apenas um ensaio.
Numa área um pouco menor que um campo de futebol, duas fileiras simétricas de tongkonans, alinhadas uma em frente à outra e com um pátio no meio, formam uma praça – chamemos assim – na qual há também galpões para abrigar os animais que serão sacrificados, palanque VIP para as autoridades e os familiares mais próximos da falecida, além de cozinha, de onde saem ininterruptamente pequenas porções de comida para os mais de quinhentos convidados. Apesar da manhã cinzenta e da garoa fina, o clima é festivo. Os parentes chegam e cumprimentam uns aos outros, em meio a sorrisos e abraços. Estão paramentados com o figurino tradicional. As mulheres vestem uma blusa bordada, muitas vezes com mangas compridas e gola alta, chamada baju; e, enrolado em torno da cintura, o lypa, um tecido colorido e brilhante similar a um sarongue, mas com padrões mais elaborados. Algumas usam também o sulap, um tipo de xale. O grupo uniformizado com baju rosa de mangas curtas é responsável pela gestão da cozinha. Quanto aos homens, a maioria está de camisa de mangas compridas de cor escura e celana, calças folgadas e confortáveis. O ikat, uma faixa larga com padrões geométricos, faz as vezes de cinto e complementa o traje.
Começam os pronunciamentos, reverberados pelo potente sistema de som. São muitas as mensagens. Gratidão àqueles que vieram de longe, relatos de conquistas da saudosa homenageada, agradecimentos a quem ofereceu búfalos e porcos de presente – amigos muito próximos trouxeram animais e, segundo fui informado, também algumas pessoas que querem fazer uma média com o viúvo, um homem influente de Rantepao. Os búfalos têm o nariz perfurado por um anel metálico, como um piercing gigante, por onde passa uma corrente de ferro presa ao chão ou ao teto de uma das edificações. No centro do pátio está uma opulenta urna cilíndrica de madeira, enfeitada com folhas de ouro e com detalhes em vermelho, uma peça exuberante que passaria por obra barroca. O corpo está nessa urna, que, por sua vez, encontra-se abrigada sob uma tongkonan proporcional ao seu tamanho, amarrada a vigas de bambu, como uma espécie de liteira fúnebre.
Nas exéquias, tudo tem uma simbologia, nada aparece arbitrariamente. O galo pintado com capricho numa fachada é a representação de Pong Lalondong, o porteiro da Puya. Cada chifre de búfalo afixado num enorme totem decorativo contabiliza o sacrifício de 24 animais – há 54 chifres; logo, 1.296 búfalos já foram oferecidos às entidades nesta praça. Quatro cores marcam a decoração dos ambientes: o vermelho simboliza o sangue, a vida; preto é luto; branco, pureza e santidade; e o amarelo, a prosperidade e a graça. Quando um grupo de dez mulheres idosas usa estacas de bambu para batucar de forma ritmada num comedouro de animais, um certo alvoroço se inicia. A percussão é uma forma de comunicação com os ancestrais, um meio de invocar a presença de espíritos benfeitores e pedir bênçãos para a alma da finada. O comedouro, por sua vez, utensílio do dia a dia comunitário transformado num instrumento musical, expressa os vínculos sociais de amizade e cooperação entre todos os presentes. Inebriados pela pulsação percussiva, cerca de trinta homens erguem as vigas de bambu amarradas numa estrutura do tipo jogo da velha, sobre a qual está a tongkonan com a urna funerária, e então se inicia o cortejo. É uma farra. O féretro é bem pesado, muitos se atrapalham, outros tropeçam em pernas e pés vizinhos, há os que não aguentam o peso, todos gargalham a valer. Amarrada à popa da tongkonan, um pano largo vermelho de uns cem metros de comprimento é levado por uma grande aglomeração feminina; parece flutuar, dado que as mulheres estão debaixo do tecido. Essa faixa vermelha alude à conexão entre os vivos e o mundo dos espíritos; as mulheres, por sua vez, representam a fertilidade e a continuidade da vida. Assim como os homens, elas também sorriem muito, desfilam fazendo fotos e vídeos com seus celulares. E assim o cortejo sai da praça ritualística para dar uma volta no vilarejo. O passeio simboliza a despedida de Miska Timu Limbong de sua comunidade.
A cerimônia prossegue, com mais discursos e muita comida. Quando a comitiva retorna, os homens estão exaustos, com as faces afogueadas, mas ainda divertindo-se um bocado. Eles escorregam na terra molhada, o féretro desaba no chão, mas felizmente não há danos. Na sequência, o viúvo é levado num andor. Ele está sentado dentro de uma pequena cabine de tecido preto, aberta na frente, de modo a permitir que acene para a multidão. A procissão, desta feita, é mais rápida. Em vinte minutos, o viúvo é trazido de volta, e chega o momento mais importante do dia: a tongkonan com a urna em que está o corpo será empurrada numa rampa até uma plataforma de quatro metros de altura. A tarefa não é simples. Muita gente está ali por perto para ajudar, amarram-se cordas para evitar que o aparato escorregue para baixo e se arrebente, discute-se a melhor forma de suspender, puxar, empurrar, apoiar isso, arrastar aquilo outro.
Enfim, a tongkonan funerária chega ao alto da plataforma. E somente agora, segundo a doutrina da Aluk Todolo, Miska Timu Limbong está realmente morta. Nesse instante em que nuvens púrpuras compridas se estendem pelo céu, acima do sol oblíquo, começa o sacrifício dos 41 búfalos, cuja carne irá ao fogo e será servida hoje e nos próximos seis dias de cerimônias. O encerramento oficial do Rambu Solo se dará quando a urna for depositada num túmulo escavado no alto de uma imensa parede rochosa – na região, em meio a silenciosos e intermináveis campos de arroz e plantações de café arábica de reconhecida qualidade, há escarpas nas quais são esculpidos nichos mortuários; quanto mais nobre a pessoa, mais alto é o local da sua tumba. Para essa etapa do funeral, é necessário mobilizar equipamentos e gente especializada para perfurar a rocha previamente e, depois, introduzir a urna funerária na cavidade da muralha montanhosa. Tudo isso aumenta a conta. Apuro com pessoas próximas à família Limbong que todo o ritual custará em rúpias indonésias algo em torno de 40 mil dólares. É um assombro, mas não chega perto do recorde de que se tem notícia na cidade de Rantepao, de 70 mil dólares.
Como seria de esperar, as famílias desfavorecidas não têm condições de realizar cerimônias suntuosas. É aceitável que sacrifiquem, em vez de búfalos, apenas um ou dois porcos. No entanto, seus mortos ocuparão na Puya um segmento menos privilegiado – a classificação social, portanto, continuará a existir no outro mundo, e não parece haver revolta quanto a isso. Um outro aspecto mundano em relação à Puya é sua localização. Ela não fica em coordenadas etéreas, mas em algum lugar no sudoeste distante, alcançável, dizem alguns, por meio de um túnel. A ideia não é assim tão estranha. Na cosmologia de diversos povos, o além é um território físico – e ilhas, em especial, inspiraram muitos mitos. Os finlandeses antigos acreditavam que Tuonela, o mundo dos mortos, ficava em uma ilha distante e inóspita, acessível depois da travessia do Rio Tuoni. Para o povo Mapuche, grupo étnico do Chile e da Argentina, a Ilha Mocha, na costa chilena, era considerada um local sagrado para onde iam as almas dos guerreiros e heróis mortos. Mesmo o cristianismo teve seu momento de cravar no mapa as paragens do pós-vida – ou pelo menos de uma parte delas. Segundo a crença difundida na Idade Média, e popularizada por Dante Alighieri em A divina comédia, o purgatório ficava numa montanha íngreme, situada numa ilha no Hemisfério Sul, cercada por um vasto oceano, recorrentemente associado ao Mar Antártico.
A preponderância que a morte e o destino dos espíritos ocupam na Aluk Todolo chega a impactar até mesmo o léxico do idioma local, o toraja sa’dan, que pertence à mesma família de outras línguas do Sudeste Asiático, da Oceania e da Polinésia. Em toraja sa’dan não há, a rigor, uma única palavra que traduza “alma”. É como “neve” em kalaallisut, principal idioma inuíte da Groenlândia, no qual existem vocábulos específicos para neve fresca ou úmida, neve caindo ou já no chão; também ocorre o mesmo com as várias categorizações de “camelo” em árabe: um termo próprio para o animal jovem e saudável, ideal para corridas, outro para a fêmea leiteira, um terceiro para designar o macho adequado ao transporte de cargas pesadas, e assim por diante. De maneira que a alma, para os torajas, é tão relevante quanto a neve para os povos do Ártico ou o camelo para os beduínos do Saara. É, na verdade, um conjunto de conceitos, como documentou a antropóloga americana Kathleen M. Adams, doutora pela Universidade de Washington, que pesquisou em profundidade o assunto em Sulawesi.
O que pode ser entendido livremente como “força animadora”, a professora Adams descreve, é a sumanga. Presente em todos os seres vivos, a sumanga é comparável a um pássaro, pode fugir por um tempo depois de um susto repentino ou ser apoderada por uma entidade malévola. São comuns frases como “minha sumanga voou” ou “a sumanga dele foi tomada”. Existe ainda a alma que interage com os outros e é afetada pelo meio; é a “força vital social”, chamada penaa. A penaa é a essência do indivíduo que responde às experiências cotidianas; cresce depois de uma refeição farta e diminui durante uma doença ou em fases de desassossego. Depois de beber vinho de palma muito além da conta, encarando uma dor de cotovelo braba, um jovem toraja desabafou com a professora Adams: “Minha penaa está pequena”. Diferente da sumanga e da penaa, o bombo é a alma que paira ao lado do corpo quando, para efeitos clínicos e burocráticos, a pessoa é declarada morta – mas, segundo a crença tradicional, ela ainda mantém uma centelha de vida. É com o bombo da mãe que conversa Hermon Pakku, a senhora que me recebeu em sua casa na cidade de Rantepao. Às vezes, bombos podem ser vistos, quase sempre vestidos de preto. Finalmente, deata é a alma dourada em que se torna o bombo que ascende ao mundo superior dos Deuses e transforma-se num ancestral merecedor de oferendas.
Nem sempre as práticas ancestrais da Aluk Todolo puderam ser realizadas com plena liberdade. No final do século XIX, quando o governo colonial neerlandês começou a expandir seu controle para as áreas montanhosas de Sulawesi, onde os Toraja viviam com autonomia e relativo isolamento, missionários cristãos tentaram banir o Rambu Solo. Na Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação japonesa, foram impostas restrições aos costumes tradicionais. Com a independência da Indonésia, em 1945, as adversidades não se extinguiram. O novo governo implementou uma política bizarra de regulação religiosa que permitia apenas cinco confissões: islamismo, cristianismo, hinduísmo, budismo e confucionismo. Não se tratava de uma formalidade estúpida sem consequências práticas. Os torajas animistas enfrentavam dificuldades para registrar nascimentos, casamentos e mortes, pois esses atos exigiam afiliação a uma das religiões oficiais. Depois de anos de tensões, em 1969 chegou-se a uma solução mal-ajambrada: a Aluk Todolo acabou categorizada como uma vertente do hinduísmo, numa evidente distorção teológica. Somente em 2017 a Suprema Corte do país, em resposta a ações judiciais em favor da liberdade religiosa, determinou que os cidadãos não seriam mais obrigados a identificar sua fé para obter a carteira de identidade, o RG nacional, nem para registrar documentos em cartórios. Os ativistas julgaram uma importante vitória para os fiéis de mais de duzentas religiões nativas animistas, praticadas em muitas das 17 mil ilhas que compõem a Indonésia.
Embora hoje apenas 5% dos 500 mil torajas que vivem nas terras originais da etnia em Sulawesi se declarem seguidores da Aluk Todolo, a ampla maioria cristã continua realizando os rituais tradicionais, como o Rambu Solo e a Ma’nene. Historicamente, a grande adesão ao cristianismo se deu por razões pragmáticas, primeiro para facilitar acordos comerciais com os neerlandeses e depois pelas questões burocráticas. De todo modo, o cristianismo local não é nada ortodoxo, e a oscilação entre observâncias animistas e fidelidade a preceitos dos Evangelhos em versão free style produz um peculiar equilíbrio sincrético. As licenças doutrinárias vêm de longe. No início do século XX, quando missionários da Igreja Reformada dos Países Baixos constataram o fracasso das tentativas de proibir os costumes ancestrais, o jeito foi adaptar personagens e conceitos da Aluk Todolo. Assim, Puang Matua, o Deus nº 1 do panteão toraja, passou a ser apresentado como o Deus da Bíblia; a Puya, por sua vez, tornou-se o paraíso – porém, com acesso restrito, mediante julgamento que separa os justos dos infiéis. Até aí, deu para encarar; muitos dos torajas cristãos toparam essas reedições da narrativa original do seu povo. Mas não pegou a ideia de uma Puya destituída de hierarquia social, em que todas as almas salvas da danação eterna são iguais perante a Santíssima Trindade. Igualmente infrutíferas foram as orientações de pastores e padres para a eliminação do sacrifício de animais.
O triunfo da cristandade – ou, pelo menos, de uma modalidade para lá de customizada da fé cristã – é confirmado pelo Cristo Redentor da cidade de Makale, nas terras torajas. A estátua, no alto de uma montanha, não é tão harmoniosa e elegante quanto a do Cristo que tem os braços abertos sobre a Guanabara, e por isso mesmo é muito menos famosa; no entanto, é maior: tem 40 metros, ou seja, dois a mais que o Jesus do Corcovado.
O certo é que o cristianismo não conseguiu moldar a centralidade que a morte ocupa no dia a dia dos vivos, materializada não apenas no Rambu Solo e na Ma’nene, mas também na prática de manter em casa os entes queridos mortos. Mesmo porque a morte, para os torajas, não é um evento biológico ou clínico, atestado por um médico e cravado num documento. A morte é tratada como um processo familiar e social, por meio do qual quem parte é longamente homenageado e aqueles que ficam têm reforçados seus vínculos de amor, amizade e fé. Esses vínculos vão muito além do convívio terreno; são os alicerces de um ciclo contínuo de pertencimento que se estende além da última despedida.