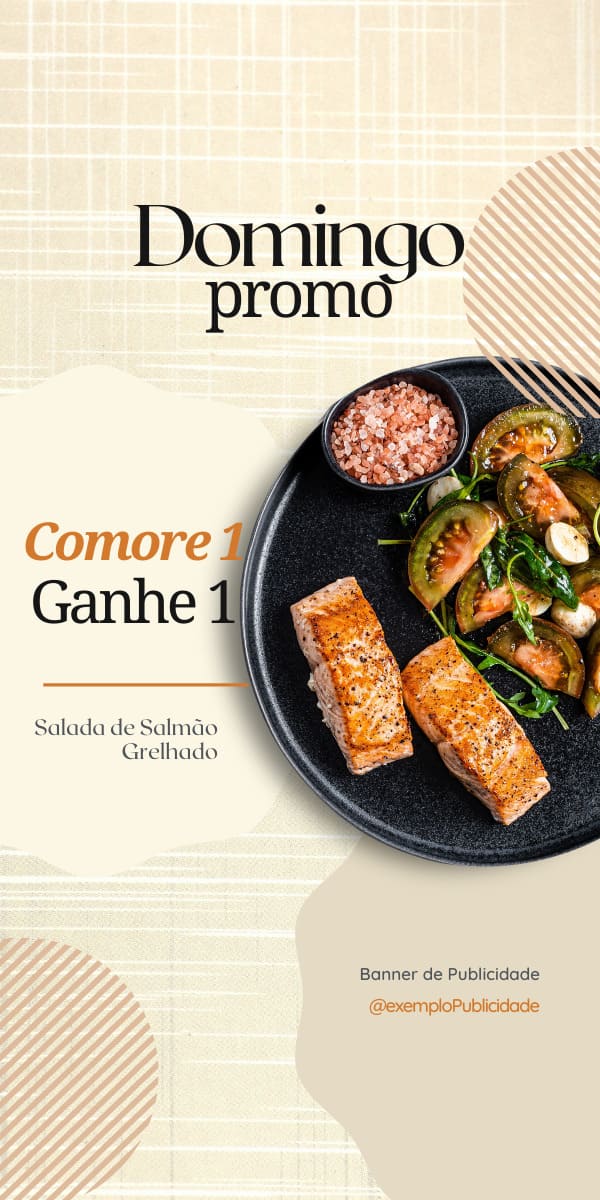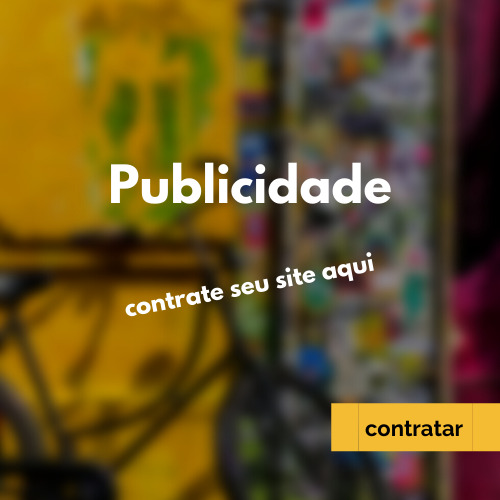Assim que entrou na sala de aula, em abril de 2023, a professora de história Ana Célia da Rosa viu nódoas escuras no piso. Sabia que eram manchas de sangue. Talvez de seu próprio sangue: duas semanas antes, em 27 de março, Rosa havia tombado naquela sala da Escola Estadual Thomazina Montoro, na Vila Sônia, bairro de São Paulo, atingida por dezessete facadas desferidas por um aluno de 13 anos. Uma colega de 71 anos, Elisabete Tenreiro – Bete, como era chamada por alunos e professores –, também foi esfaqueada e não resistiu aos ferimentos.
“Me mandaram para a mesma sala onde tudo tinha acontecido, onde a professora Bete tinha morrido e onde eu tinha sido atacada”, desabafa Rosa, hoje com 60 anos. Ela conta que os alunos, percebendo sua angústia, demonstraram uma sensibilidade que a direção da escola não teve. “Eles me abraçaram, falaram que estava tudo bem, que estavam ali para me ajudar”, lembra a professora. Ela prosseguiu com a aula da forma como pôde. Apenas pediu que os alunos não usassem boné ou capuz, pois isso a fazia lembrar do menino que a atacou.
Encerrada a primeira aula, Rosa foi ao banheiro lavar o rosto. Na saída, a vice-diretora veio lhe trazer um saco escuro. “Eu não sei o que você vai fazer com isso, mas é seu”, disse. Rosa voltou ao banheiro para ver o que havia lá dentro: eram os sapatos que estava usando no dia do ataque. O par estava sujo de sangue, e um dos pés tinha um furo, aberto pela faca do jovem agressor.
“Quando eu abri o saco, veio aquele cheiro de sangue seco no meu nariz. Eu não sei se você já sentiu cheiro de sangue seco. É horrível”, diz Rosa. “Aí, eu desabei. Desabei, desabei, mesmo.”
Os sapatos foram comprados a prazo. Rosa ainda não havia quitado as prestações quando voltou ao trabalho.
A professora Ana Célia da Rosa está entre os dezoito entrevistados de uma pesquisa inédita que será publicada nesta terça-feira (9), intitulada Para lembrar e reagir: desenhando futuros possíveis a partir da ressignificação dos ataques de violência extrema contra escolas no Brasil. O estudo, coordenado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), mapeou 42 atentados perpetrados no universo escolar entre 2002 e fevereiro de 2025. Juntas, essas ocorrências causaram 53 mortes e deixaram 129 feridos. Como seria de se esperar, os dezoito ataques cometidos com armas de fogo foram os mais letais: causaram 42 mortes. Em outras ocorrências, os agressores portavam armas brancas, que levaram a onze mortes.
Nos Estados Unidos, onde massacres escolares são mais frequentes (e onde leis permissivas facilitam o acesso a armas mais letais), o movimento “Everytown for gun safety” começou a fazer esse tipo de levantamento em 2013. Desde então, registrou 1.503 ocorrências em que foi disparado ao menos um tiro em escolas e universidades, com um saldo de 1.100 feridos e 785 mortos. O episódio mais recente ocorreu em 27 de agosto deste ano, quando duas crianças foram mortas e dezessete pessoas ficaram feridas em uma escola no estado do Minnesota.
Além de mapear os ataques, o estudo é o primeiro a ouvir sobreviventes, testemunhas e familiares das vítimas no Brasil. Os pesquisadores recolheram depoimentos em quatro cidades onde houve episódios de violência em escolas. Foram entrevistadas uma pessoa em Realengo, no Rio de Janeiro, nove em Suzano, município da região metropolitana de São Paulo, seis em São Paulo e duas em Goiânia. Os responsáveis pela pesquisa acreditam que ouvir sobreviventes permite dimensionar o impacto desses traumas escolares na vida da comunidade. Também pode ser um ponto de partida para compreender e sobretudo prevenir a violência nas escolas.
“Quando começamos o levantamento, percebemos que as narrativas dominantes eram sempre sobre os agressores: seus perfis, motivações, os detalhes macabros dos crimes”, diz Andressa Pellanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. As vítimas, lamenta ela, eram reduzidas a números no meio do sensacionalismo que costuma acompanhar massacres em escolas. “Isso é parte de um problema maior: a violência extrema vira espetáculo, e quem sofre fica invisível, especialmente com o passar dos anos.” Foi para “inverter essa lógica” – na expressão de Pellanda – que a pesquisa ouviu sobreviventes como a professora Rosa.
Miriam Abramovay, pesquisadora da Flacso e uma das organizadoras do estudo, ficou impressionada com a frase que ouviu da mãe de um aluno assassinado em uma escola: “Lembrar é a única forma de reagir.” Socióloga com formação em ciências da educação, Abramovay acredita que lembrar também pode “ajudar a construir políticas públicas” que evitem novos ataques.
Quando viu um rapaz encapuzado com uma arma na mão na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), a aluna Maria* imaginou que não passava de um trote dos estudantes do terceiro ano do ensino médio. Até que viu o rapaz disparar contra uma colega – e em seguida se virar em sua direção. “Eu abaixei e, nessa, o tiro acertou a perna do meu amigo”, ela contou às pesquisadoras. O atirador seguiu disparando a esmo. “Ele virava e atirava na pessoa do seu lado, e aí o sangue espirrava no rosto. Não tinha um alvo específico”. Maria conseguiu fugir sem ser baleada.
Naquele 13 de março de 2019, uma quarta-feira, sete pessoas – cinco alunos e duas funcionárias – foram mortas. Os assassinos eram dois ex-alunos, de 17 e 25 anos. O mais jovem matou um tio no mesmo dia, antes de se dirigir ao colégio com seu cúmplice. Os dois permaneceram na escola por cerca de quinze minutos. No fim, o rapaz mais novo matou seu comparsa e se suicidou. As investigações da polícia revelaram que a dupla visitava fóruns na deep web em que se exaltava o nazismo. Tiraram inspiração do massacre na escola de Columbine, nos Estados Unidos, no qual treze pessoas foram mortas a tiros em 1999. “Nascemos falhos, mas partiremos como heróis” foi a mensagem que um dos assassinos deixou, na manhã do ataque, em um grupo na internet.
O estudo estabelece uma conexão entre esses crimes e o ambiente político no Brasil, marcado hoje pelo extremismo de direita. Não menciona explicitamente Jair Bolsonaro ou seus apoiadores, mas sugere que há um elo conectando o aumento de episódios de violência fatal em escolas e a ascensão de um movimento político “que rompe paradigmas democráticos”. Dos 42 casos registrados desde 2002, 35 (mais de 82%) aconteceram a partir de 2018, ano da campanha eleitoral vitoriosa de Bolsonaro.
O estudo inclui entre os fatores que motivam esses crimes a “cultura do ódio” e a necropolítica – expressão cunhada pelo cientista político e filósofo Achille Mbembe para se referir a correntes ideológicas que empregam a violência como forma de manutenção e extensão do poder. Os pesquisadores também citam a facilitação do acesso a armas de fogo e questões de gênero. Disseminada nas redes sociais, a cultura Incel (abreviação de involuntary celibate: celibatário involuntário), caracterizada pela misoginia, incentiva a violência como resposta aos sentimentos de rejeição que afligem muitos garotos. “Em um cenário em que o poder bélico é exaltado e as armas se tornam símbolos de status e poder, as violências deixam de ser um último recurso para serem vistas como um caminho natural para a resolução de divergências, contribuindo para a normalização de conflitos”, diz um trecho do estudo.
No Colégio Goyases, em Goiânia, os alunos do oitavo ano do ensino fundamental decoravam a sala com balões para uma feira de ciências planejada para o dia seguinte. Subitamente, um estudante de 14 anos se levantou com uma arma nas mãos. “Vou matar todo mundo!” Em seguida, disparou contra um colega próximo e depois começou a atirar aleatoriamente, em movimento circular. Dois alunos morreram e outros quatro foram feridos pelos disparos – incluindo Marcelo, o melhor amigo do atirador.
No relatório Para lembrar e reagir, Alice, aluna ferida nesse incidente de 20 de outubro de 2017, conta que Marcelo, caído com a cabeça voltada para ela, “desmaiava e acordava” enquanto a sala ainda estava sob tiros. Alice, que tinha 13 anos, foi baleada quatro vezes. Também caiu e desmaiou, mas a certa altura recuperou a consciência e viu o atirador apontar a arma para ela: “Eu pensava: ‘nossa, agora eu vou morrer, mesmo’.” Ao tentar fugir rastejando, ela percebeu que suas pernas não respondiam. “Ali, eu já sabia que tinha ficado paraplégica.”
Na época, divulgou-se que o autor dos tiros era vítima de bullying e que sua higiene corporal havia sido criticada, dias antes, pelo primeiro aluno alvejado. O estudo, no entanto, é cauteloso ao analisar o quanto esses ataques podem ser atribuídos somente ao bullying. As questões de gênero, segundo os pesquisadores, também são centrais. Coordenadora de programa e políticas da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Marcele Frossard lembra que o maior número de vítimas é do sexo feminino (o mapeamento, porém, não discrimina as vítimas por gênero). “Nenhum estudo aponta que as meninas fazem mais bullying que os meninos para serem vitimadas em maior número. E aí, quando a gente faz a análise relacionando com o avanço de setores conservadores, que são misóginos e violentos, a gente nota que existe uma relação.”
O adolescente que abriu fogo na escola em Goiânia foi descrito por colegas como um “adorador” de Hitler, e certa vez até foi à escola exibindo uma suástica no uniforme. Nas paredes de seu quarto, foram encontrados desenhos relacionados ao nazismo. “Não é normal você adorar essas coisas e achar que está tudo certo”, disse uma das alunas entrevistadas no estudo. Filho de um casal de policiais militares, o garoto usou a arma de um dos pais para matar os colegas.
Nos outros três casos esmiuçados na pesquisa, os autores do crime também deram sinais prévios de propensão à violência, que não foram devidamente identificados pela escola, pela comunidade ou pelos familiares. Os pesquisadores argumentam que falta preparo para perceber esses indícios. Professores e administradores de escolas também carecem de apoio. Frossard pondera que o professor que chega a ter mais de trezentos alunos nem sempre consegue observar os sinais de que um estudante pode estar inclinado a cometer atos extremos. Mesmo que note indícios, não encontra a quem recorrer: “Às vezes, não tem rede construída com equipamentos de saúde, ou a rede não tem capacidade de absorver”, diz. “Não existe uma política pública de gestão democrática, de convivência escolar, de participação dos jovens e dos professores nas escolas. Fica muito difícil esse diálogo”, complementa Miriam Abramovay.
Em setembro de 2024, pouco mais de um ano depois de ter sido esfaqueada na Vila Sônia, a professora Ana Célia da Rosa foi novamente assombrada por uma ameaça à sua vida. A essa altura, já estava trabalhando em outra escola, também em São Paulo. Um dia, alguns alunos demonstraram irritação quando ela os advertiu por problemas de comportamento. Dias depois, segundo Rosa, uma estudante a procurou para dar um aviso: “Professora, eles estão falando que vão ‘terminar o serviço’ que o outro menino começou na outra escola.”
Em abril deste ano, temendo pela própria vida, Rosa mudou-se para outro colégio público de São Paulo. Mais uma vez, no entanto, foi ameaçada ao repreender alunos. “Eu já matei um policial. Matar um professor não vai dar nada, não”, ameaçou um estudante. “Ali, eu comecei a chorar. Desabei de chorar”, disse Rosa à piauí. A professora registrou boletim de ocorrência sobre as duas ameaças. Também ajuizou um processo contra o estado de São Paulo, reivindicando indenização pela violência sofrida na Vila Sônia. Ela tinha um contrato temporário com o governo, encerrado no semestre passado. Hoje está desempregada. Desde o atentado, passa por tratamento psiquiátrico no SUS. Tem problemas para dormir e ainda se angustia quando vê algum rapaz usando boné ou capuz. Apesar disso, não pretende abandonar seu ofício: “Eu gosto muito de ser professora. É uma profissão que aprendi a amar.”
O estudo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e da Flacso examina as consequências dos ataques para a saúde mental das vítimas. Sobrevivente do atentado em Suzano, Maria relatou às pesquisadoras que desde então vem tendo pesadelos. Desenvolveu síndrome do pânico e gastrite. Já passou por nove psicólogos e um psiquiatra, mas considera que o tratamento “não adiantou nada”. A menina disse que sentiu muita raiva por ter sido vítima do ataque, sentimento que só se amenizou depois que começou a frequentar uma igreja. Hoje com 21 anos, ela trabalha como auxiliar administrativa e começou a fazer um curso de eletrônica.
Também entrevistada no estudo, a mãe de Maria relatou mudanças no comportamento da filha: “Ela ficou revoltada e começou a ficar agressiva conosco. A Maria era uma menina vaidosa. Ela perdeu toda a vaidade. Usava blusão, touca, sabe? Calça larga, toda desleixada, escondida no canto, como se não quisesse aparecer. Qualquer coisa que você falava para ela, ela já estava irritada. Ela queria te agredir, queria te bater como se você fosse culpado por alguma coisa.”
Alice, a garota que ficou paraplégica por causa dos tiros que a atingiram na escola em Goiânia, hoje cursa publicidade e propaganda. Com 20 anos, já faz estágio e se considera uma defensora dos direitos da pessoa com deficiência. Precisa de ajuda para atividades cotidianas como se vestir, ir ao banheiro e pentear o cabelo. Toma antidepressivos e medicamentos para dor todos os dias. Também desenvolveu síndrome do pânico e ansiedade. Ainda dorme com os pais, por causa de pesadelos recorrentes em que se vê diante do autor do ataque. “Toda vez que eu entro numa sala de aula, eu me enxergo caída, cheia de sangue, pedindo socorro”, ela disse aos pesquisadores. “Vejo meus amigos caídos. Vejo o menino andando de um lado para o outro, com a arma. E também, em todo lugar que eu vou, traço uma rota de fuga. Não tenho paz quando eu saio.”
O autor do atentado cumpriu pouco menos de três anos de medida socioeducativa. Em depoimento à polícia, disse não se arrepender de seus atos. Deixou o internato em maio de 2020. Alice teme reencontrá-lo, pois ele mora em um bairro próximo de sua casa e estuda na mesma universidade que ela. A jovem disse às pesquisadoras que não frequenta festas universitárias, com receio de vê-lo. Os pais da jovem processaram a escola e os pais do atirador. Até agora, a única reparação que recebem é um salário-mínimo, pago mensalmente pelo colégio, que é particular.
Nas considerações finais de Para lembrar e reagir, os pesquisadores afirmam que massacres e explosões de violência extrema nas escolas não serão contidos com medidas reativas e pontuais. O documento diz que são ineficientes as soluções que se concentram apenas na vigilância e na repressão, como a ampliação do policiamento ou catracas eletrônicas na entrada das escolas. “Mesmo que a gente tivesse um corpo de milhões de policiais, não adiantaria nada, porque o policial não tem diálogo com esses meninos. O que eu acho é que todas essas forças, sejam da educação, da segurança pública e da saúde, têm que dialogar”, diz Miriam Abramovay.
O diálogo democrático é a chave para prevenir a violência, diz o estudo. O melhor caminho para uma escola segura é “um compromisso real com a juventude, os direitos humanos e a justiça social”, com um modelo de administração escolar baseado na participação coletiva da comunidade. “É preciso ter a proximidade como fator de prevenção. Uma gestão democrática, no sentido de aproximação entre estudantes, professores, a comunidade e a família, para ser uma escola aberta”, diz Frossard. No esforço de lembrar a tragédia das comunidades que já foram atingidas pela violência, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação prepara mais uma rodada de entrevistas com sobreviventes de atentados em outras quatro escolas.
Os esforços do poder público para prevenir atentados em escolas são recentes. Em dezembro de 2022, o grupo de transição do governo Lula produziu um relatório de cinquenta páginas sobre dezesseis episódios do tipo. O texto trazia algumas propostas, como formação continuada para professores e educação crítica da mídia. Mas só em abril do ano passado o governo federal instituiu o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas (Snave) e, a partir de sua regulamentação, criou o Programa Escola que Protege (ProEP), com objetivo de promover ambientes escolares seguros, democráticos e acolhedores. Estados e municípios que aderem à iniciativa se comprometem a cumprir alguns objetivos prioritários, como o apoio à formação de profissionais para o enfrentamento da violência, o combate ao bullying e à discriminação, e a construção de estratégias de monitoramento e comunicação. De acordo com o Ministério da Educação, todas as escolas estaduais aderiram ao ProEP. Nas escolas municipais, a adesão tem variações regionais: vai de quase 60% no Centro-Oeste a 97% no Nordeste.
Andressa Pellanda concorda que tem havido avanços, como a criação de grupos de trabalho no Ministério da Justiça para investigar crimes digitais e o debate sobre a regulação das plataformas no Congresso Nacional. Mas ainda falta, segundo ela, “vontade política” para que se tomem providências cruciais: “Há resistência em enfrentar temas espinhosos, desde implantar gestão democrática de fato, que enfrenta relações de poder no ambiente escolar, até o lobby armamentista e a influência do extremismo online. A esperança está na mobilização das vítimas e familiares, e nas comunidades escolares, que estão exigindo mudanças. Se ouvirmos eles e agirmos com coragem, dá para evitar que mais histórias se repitam”, diz. “Mas o tempo é curto.”